Raphael Montechiari
Ele já estava na cama, deitado, às oito da noite. Também em uma noite como essa ele teria que tentar dormir cedo. A janela estava escancarada na tentativa de atrair um pouco de vento. Qualquer brisa que passasse por ali seria bem-vindo naquela noite de quarta-feira. Estava tão quente que, mesmo nu e com a janela escancarada, a única coisa que o mantinha vivo era o suor. Era o que o salvava. Mas a janela aberta trazia mosquitos, que não se importavam com o calor e nem com a mistura de sangue e suor que consumiam. Se fartavam do sangue dele, enquanto podiam. E mesmo naquele inferno, normalmente, ele ainda conseguia dormir.
A vila, no entanto, era muito silenciosa à noite. Só se ouviam rumores esporádicos, quando algum ventinho resolvia bater nas folhas das poucas árvores daquele maldito lugar. E mais nada. Há alguns tempos ainda se podiam ouvir cigarras, mas elas também deixaram a vila ou morreram. A verdade é que não mais cantavam por lá. E o calor era silencioso e com um gosto de cica, que deixava a boca colando. E ele lá, esperando o sono chegar.
Ele morou toda sua vida ali, se é que aquilo era vida. Desde que seus pais se foram ele jurou a si mesmo que sumiria dali assim que pudesse. Mas durante todo o tempo em que viveu ali, nunca havia se sentido tão só como naquela noite. Seu filho havia partido cedo, para Urais, levar o novilho para vender. Quando o compraram, ainda tinham a esperança de que ele cresceria e se tornaria um boi tão grande, que poderiam conseguir dinheiro para comprar uma casa em Tarracho ou até em Rio Dourado. Mas o animal estava definhando e, se não vendessem o mais rápido possível, não teriam nada. Os vizinhos já o olhavam e se preparavam para matá-lo e saciar a fome a qualquer momento. Mais uma semana ali e o perderiam para aqueles famintos. Vendendo-o conseguiriam ao menos um dinheirinho para alugar uma casinha em alguma outra cidade, onde se possa viver, e tentar recomeçar. O dinheiro daria para umas três ou quatro semanas. Mas era o que podiam fazer. Depois decidiriam o que fazer. Era a última esperança.
O rapaz havia saído com o novilho às duas da tarde e só voltaria às dez horas do dia seguinte. Então partiriam e ninguém mas ouviria falar deles. Era tudo que ele queria. Talvez um pouco mais de vento também não faria mal. O cheiro de madeira velha e de naftalina se misturavam com o cheiro de suor e com as coceiras. Eram os últimos lençóis limpos. A vila não tinha água para se desperdiçar com banhos ou lavagens de roupa. O único poço, ainda com água, era disputado por todos os moradores da vila e a água só poderia ser usada para beber ou cozinhar. Qualquer um que usasse para outro fim seria proibido de voltar ao poço. Então toda segunda quarta do mês, todos os moradores da vila partiam, como que em romaria, para São Pedro das Águas Claras. Eles iam para lavar suas roupas e tomar banho no rio límpido que cortava a cidade. Era uma viagem de dezessete horas de ida e dezenove de volta. E era o dia em que a cidade ficava deserta. Só ele ficou. Pela primeira vez. Até os velhos, doentes, incapacitados iam. Carregados ou se arrastando. Eles não permaneciam ali. Não sei se era pela necessidade de higiene ou pelo medo.
Diziam que nessas noites, enquanto os moradores iam se banhar, os mortos vinham para a vila se banhar de vida. Passeavam pela rua principal, se divertiam e tomavam conta das casas, relembrando o tempo em que eram vivos. Mas até então, ninguém havia ficado para confirmar se era ou não verdade. E ele se lembrava disso tudo. Deitado ali, sujo, suado e esperando a última noite naquela vila passar voando. Ele achou que dormiria rápido, como era de costume. Logo chegaria a manhã trazendo o seu menino, com o dinheiro do novilho. E partiriam para nunca mais voltar. Aquela vila cheirava a morte e quem ali fica, só está à espera dela. Não há mais o que se esperar de um lugar como aquele. Pra se ter uma idéia a parte que mais crescia na cidade era o cemitério. Já estava chegando até à praça e ia invadindo as casas abandonadas. O que ele mais queria era viver um pouco, coisa que não fazia há muito tempo, desde a época que lá havia pasto, água e muito gado. A plantação de milho abastecia até as cidades vizinhas e era uma vila que em breve se tornaria uma cidade. Mas em algum momento, que ele não se lembra, algo aconteceu e tudo passou a dar errado. A chuva não veio, o pasto queimou, o gado morreu e a água, dos poços, se secou. Ele tinha durado muito tempo ali. Precisava viver. E se aquilo ali já não era a morte, estava longe de ser vida.
A casa era enorme. Quartos grandes e vazios. Cheios de calor e sem vento. Poeira e solidão preenchiam os outros cômodos da casa, inclusive a sala, logo na entrada. A porta da frente não fechava direito, por conta das dobradiças enferrujadas. Algumas janelas não mais abriam, pelo mesmo motivo. As torneiras estavam inutilizadas e eram simples enfeites. O banheiro guardava tábuas, uma grande mesa velha e tijolos. Sem água ele era inútil. Há cinco anos não corria água nos canos da vila. Antes disso a água era jogada para as caixas por bombas manuais. Recolhiam a água farta dos poços que toda casa tinha. Isso até eles secarem e só restar o poço da casa da senhora Dulce Marrone. Ela já havia morrido há uns vinte anos atrás e sua casa estava abandonada. Mas o poço ainda estava vivo e o único que tinha água na vila. Era o poço que todos dividiam.
O sono simplesmente não chegava. Um ruído chegou aos seus ouvidos, após ter cortado todo o ar quente que tomava conta daquele ambiente. Era algo como uma batida. Mesmo de olhos fechados ele podia vê-las, tamanho era o silêncio da noite. Batidas empoeiradas, de madeira. E eram constantes. Seriam passos? Ele se arrepiou e se lembrou que não havia mais ninguém ali, além dele. Seus olhos estavam fechados e começou a se sentir gelado. Estava inerte para que, quem quer que se aproximasse, não o notasse ali. As batidas pareciam se manter em um mesmo lugar. Não, não eram passos. Passos se aproximam ou se distanciam. Aquela batida estava vindo sempre de uma mesma direção. A casa era todo mapeada em sua mente e ele sabia exatamente que a batida vinha do segundo quarto, depois do banheiro. A batida ecoava pelos corredores, entrava pela porta, refletia no espelho e vinha de encontro aos seus ouvidos, na cama. A janela, à sua direita, absorvia os restos do som e os lançava para fora. Sentiu calafrios ao se lembrar da história das almas. Será que estavam chegando? A batida continuava e ele tentava imaginar o que estariam fazendo. Talvez pregando as janelas e portas para que ele não fugisse quando o encontrassem. Sentiu um calafrio, o mais forte que já havia sentido na vida. Ainda de olhos fechados ele podia sentir que alguém o observava. E esse alguém estava sentado na cadeira ao lado da janela, onde estava esticada sua camisa, calças e cinto. Ele estremeceu em seguida. Uma senhora, corcunda, com um vestido azul remendado, esperando ele abrir os olhos para cantar uma canção triste. Talvez querendo saber o que um vivo fazia na noite dos mortos. Talvez uma menina, que havia morrido de tuberculose há muito tempo. Pálida e com os olhos fundos, ninando uma boneca de porcelana. Ele estava imóvel e não teve coragem de abrir os olhos. Na janela aberta já não entrava vento algum. A tensão o pressionava contra a cama. Ele sentiu falta dos mosquitos e sentiu que mais alguém o espiava pela janela, porque o vento não chegava. Eles se perguntavam o que ele fazia ali. A notícia já devia ter corrido por toda a vila e estavam querendo vê-lo.
A batida parou por alguns instantes e recomeçou em outro ponto da casa. O sono estava longe de chegar. Ele começou a ouvir estalos. Sabia que se abrisse os olhos e encarasse uma alma morreria de medo. Na hora. E elas estavam ali. Naquele momento ele soube que aquele tinha sido o maior erro de sua vida. Talvez o último. Ter ficado ali, naquela noite, foi uma escolha insana. Poderia ter ido com o filho para Urais ou acompanhado, como fazia há anos, o povo da vila. Mas sua descrença de que algo acontecia naquelas noites, agora iria matá-lo.
Algum tempo depois, ele notou que o vento havia voltado a bater e os mosquitos, para sua alegria, o picavam como antes. Será que haviam ido embora? Talvez os da janela. Mas na cadeira tinha alguém o vigiando. Com certeza! Um cheiro de fumo, bem de leve, surgiu no ar. Seria um velho, barbudo, com um chapéu de palha? Com seu cachimbo? Dando baforadas no ar? Sim. Um cheiro de fumo. Apertou os olhos com toda força e passou a prestar atenção na batida.
O som pareceu ir ficando mais claro. Com a atenção voltada para a batida ele percebeu que não eram batidas. Era um som de algo sendo roído. Estava mais próximo e por isso ficou mais claro. Sim. Ratos! Na última semana ele havia matado alguns que apareceram, para comer o arroz que o governo havia mandado. Eles haviam sumido junto com a comida e voltaram com ela. E agora estariam roendo madeira para fugir dessa vila antes que a morte os apanhasse. Sim. Poderia abrir os olhos agora e rir de tudo isso. Contaria ao seu filho o medo que havia passado e como as histórias o influenciaram, a ponto de quase ter se borrado de medo por conta de alguns ratos. Todos ririam e eles estariam em Rio Dourado tomando chá de ervas e comendo torresmos, felizes. Teriam pelo menos uma lembrança bem humorada da vila maldita, que só tinha solidão, fome e tristeza. Então se preparou para abrir os olhos. Respirou fundo, relaxou a face e sentiu que o ar tinha parado de novo. Há algum tempo os mosquitos não o mordiam. Outro daquele calafrio percorreu seu corpo e a presença de alguém no quarto era certa. O barulho havia parado. A sensação de que a janela estava cheia de curiosos o olhando foi mais forte do que nunca. Estava estático e ouvia o seu coração batendo forte. Passou a ouvir passos calados, como de crianças descalças. Seco e agudo. E a porta rangeu. Ouviu uma troca de olhares. Tensionou novamente a face e fechou os olhos, apertando-os com toda a força. Fora isso, nada mais mexia nele. Passou a mentalizar os movimentos da próxima ação. Levantaria e voaria pela janela. Só iria parar de correr quando estivesse bem longe daquele maldito lugar. Novamente um silêncio. E, enfim, uma respiração à sua esquerda, bem perto da porta. Sentiu uma baforada no braço e estremeceu-se todo. Ele já se preparava para se levantar e correr, a toda velocidade, quando foi surpreendido por um ganido, vindo da mesma direção. Todo seu plano foi por água abaixo pois lhe faltou força nas pernas. Elas começaram a tremer e um grito de pavor fugiu pela sua boca. Suas mãos, como que protegendo o rosto, viraram-se na direção do barulho. Ele abriu os olhos e, ao seu lado, estava Bonachão, o maldito vira-latas da senhora Dulce Marrone, abanando o rabo para ele. Respirou aliviado e imaginou que quase havia morrido por causa de um cão. Imediatamente virou o rosto para a cadeira, que ficava ao lado da janela e nos viu lá. Eu, sentado na cadeira, fumando meu cachimbo e todos os outros na janela o espiando. Desde então ele passou a visitar a vila todas as segundas quartas do mês conosco.
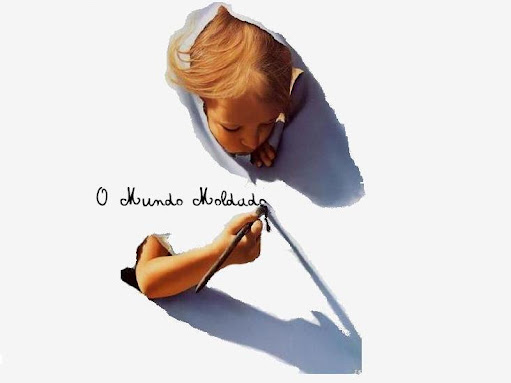

esse vc já tinha publicado no outro blog?
ResponderExcluir