Raphael Montechiari
Era um vinte e três de janeiro, quentíssimo, como era de se esperar dessa época do ano. O tempo estava nublado, mas o mormaço podia queimar a pele de quem andasse fora da sombra. Eu, como sempre fazia às sextas-feiras, fui ver o meu amor. Ninguém poderia imaginar que naquele dia ela faria aquilo. Mas fez.
Ao chegar na porta de sua casa resolvi dar uma espiada pela janela para vê-la e, em segundos ela esticou seu braço por cima do batente da janela e com uma força surpreendente, sua mão travou no meu peito rasgando-o. Senti uma dor visceral e senti meus lábios estremecerem. Estava paralisado com o susto e só conseguia observar o que ela estava fazendo comigo. Sua mão entrando e arrancando meu coração do peito. A dor era tamanha que senti minhas pernas fraquejarem e minha vista escurecer. Achei que cairia morto em segundos, mas o resto de orgulho que sobrou me empurrou para longe dela e pude fugir. Minhas mãos apoiaram a ferida para que não se esvaísse todo o meu sangue. Minhas pernas corriam numa velocidade estonteante. Parecia que elas estavam com mais medo do que eu.
Senti que não conseguiria chegar em casa consciente e então me sentei na borda do chafariz da praça. Coloquei pra fora o excesso de dor em forma de lágrimas. Lágrimas ácidas que corroíam a pele do meu rosto e faziam um caminho marcado até a boca. Depois pingavam e eu podia ver os buracos que faziam no chão de cimento da pracinha. O senhor de calças verdes e a menina com um algodão doce, que estavam caminhando em minha direção, mudaram de rota e foram pelo canteiro em direção ao grupo de pombos, que brigavam por uma migalha do pão de cachorro quente que o guarda devorava. O dono da carrocinha de cachorro-quente conversava com ele e o guarda respondia rindo, deixando escapar pelos cantos da boca ervilhas e várias migalhas de pão. E os pombos comiam e brigavam e voavam para fugir do homem de calças verdes e da menina com algodão doce que se aproximavam abruptamente, olhando para trás, fugindo do homem de cabelos penteados, camisa bege clara riscada e sapatos pretos engraxados, que estava sentado na borda do chafariz, chorando lágrimas ácidas e com o peito todo vermelho e encharcado de sangue. E, pior de tudo, sem um coração.
À minha volta as pessoas começaram a se perguntar o que havia acontecido com o atendente da farmácia. A senhora com um lenço azul na cabeça não conseguia disfarçar que olhava, mesmo fingindo estar conversando com a negra alta e gorda. Elas pareciam querer que eu percebesse que estavam me olhando para assim poderem perguntar o que havia acontecido. Os meninos que jogavam bola de gude ao lado pararam estáticos, em uma fileira, para assistir a cena. A senhora que batia a toalha na janela para preparar a mesa do jantar a sacudiu mais vezes do que o necessário. E eu me levantei pisando forte, tão forte que sentia que afundava o chão.
A partir daquele dia vinte e três de janeiro passei a seguir minha vida sem o coração. Sentia dores horríveis, principalmente quando me lembrava de que ela havia feito isso comigo. Mas já não tinha coração para odiar nem para perdoar nem para amar mais ninguém Só um buraco no peito que me trazia dores durante todo o dia.
No dia vinte e sete de janeiro ela veio até minha casa e pude perceber, já de longe, sua presença. Não sei se pelo cheiro, que eu adorava há quatro dias atrás e que agora fazia dobrar minhas dores no peito. Mas eu sabia que ela se aproximava e tranquei todas as portas e janelas. Fechei o basculante do banheiro. Era bem pequeno, mas seus olhos poderiam passar por ali. E sob a porta coloquei um cobertor enrolado, vedando qualquer passagem dela ou de sua voz ou de seu terrível cheiro. Ainda assim me senti inseguro, após ouvir as batidas na porta. Fugi pela janela dos fundos e desapareci no quintal. Passei pelo curral do Coronel Alvilar e subi pelas ladeiras do cemitério até chegar ao morro da caixa-dágua. E lá fiquei, por três dias e três noites. Até que senti que alguém se aproximava. Não me movi e ouvi os passos de três ou quatro pessoas. Elas conversavam e falavam que ali era o lugar que alguém sempre se escondia, desde pequeno, quando estava com medo.
Durante a invasão dos rebeldes, quando eu era bem pequeno, vi meu pai ser morto e minha mãe fugir com minha irmã, ainda um bebezinho, para o morro da caixa d’água. E ela me mandou segui-la. Ali permanecemos por duas semanas, até que as tropas do governo vieram e espantaram os rebeldes para as montanhas. Eu sempre lembrava disso com tristeza e conforto. Tristeza por ter perdido meu pai. Conforto por poder contar com minha mãe me guiando e protegendo. Mas agora não sentia nada. Acho que todo tipo de sentimento foi-se embora com o coração. E ele estava com alguém que não tinha coração. Talvez por isso tenha querido se apoderar do meu. As pessoas agora iam embora e eu reconhecia a voz da minha mãe. Mas eu não sentia nada por ela. Nem piedade, por talvez estar sofrendo por mim. Ela não poderia me culpar.
Segui pelas montanhas, pelo caminho que os rebeldes haviam seguido há quase dezenove anos atrás. Andei por cerca de vinte dias beirando o rio e subindo as montanhas. As corredeiras eram assustadoras e talvez fosse um bom lugar para se jogar um corpo sem coração. Fui caminhando e passando em várias cidadezinhas da região. Uma região árida e de minúsculos povoados, todos cheios de corações, olhando com piedade para um sofredor. O sol já estava bem quente quando pedi um copo d’água a uma jovem, de cabelos cortados, pretos, que estava na porta da venda onde trabalhava. Era uma tarde muito quente e quase ninguém caminhava nas ruas. Só ficavam parados nas sombras, nas portas de casa ou das lojas, provavelmente pelo calor que dentro fazia também.
- A água não está gelada, mas também não está quente. Aguarde aqui fora se não for comprar nada. E se for comprar, entre sem as mãos. Deixe-as do lado de fora e me indique o que quiser que eu pego para você. Não suporto mais ladrões aqui na venda do meu pai.
Ela entrou e eu não quis acompanhá-la. Voltou com um copo da água mais limpa e brilhante que eu já havia visto. Quando notei, o copo estava vazio e ela sorria para mim. Pegou o copo em silêncio e entrou. Nem pude agradecer, pois ainda estava tentando me lembrar do sabor da água que eu não havia sentido. O tempo passa tão depressa que só ficamos com as lembranças. Mas dessa vez foi tão depressa que a lembrança se foi com o tempo. Ela voltou com outro copo e com outro sorriso.
- Você estava mesmo com sede! Faz muito calor aqui e pela poeira no seu sapato e na sua roupa, você vem de longe. Desculpe achar que você era um ladrão, mas só esse mês três forasteiros já nos roubaram. Suas mãos são tão rápidas que só damos falta das coisas quando já estão longe. E, apesar de sujo, parece um rapaz de bem. Mas é melhor ir logo, pois já estão olhando para cá e mulher direita não fica conversando com estranhos. Se quiser mais água peça no armazém logo ali na frente.
Eu agradeci da boca pra fora. Não poderia ser de coração. Mas agradeci. Fui andando, já mais revigorado, e não pude evitar olhar para trás. Ela ainda acenava um adeus e, quando me viu olhando, fechou o sorriso e entrou na venda.
Caminhei por mais dois meses por todas as vilas, povoados e cidades da região até que as dores no peito passaram. Mesmo quando eu me lembrava dela. Do meu antigo amor. Ainda havia vestígios de dores, mas eram pouquíssimas. E havia uma casca no peito que eu não retiraria. Bastaria eu continuar andando por mais um tempo que ela cairia. E foi o que aconteceu. Com mais cinco meses de caminhada, até o final do vale pequeno, e após dar a volta pelas montanhas do norte e começar a caminhada de volta, vi a casca cedendo e dando lugar a uma imensa cicatriz que nunca mais me faria esquecer o que aconteceu.
Antes de chegar em casa passei por aquele povoado onde eu havia bebido a melhor água de toda a minha vida. Retornei àquela venda e o tempo já estava bem mais fresco. Mas eu queria beber mais um pouco daquela água. E estavam todos lá. Como se nunca tivessem se mexido. E a jovem, de cabelos pretos cortados, já sorria para mim.
- Água?
Eu sorri de volta e disse que sim. Mas pedi que enchesse uma garrafa e dei-lhe algum dinheiro. Ela agradeceu e pegou uma linda garrafa pintada com flores amarelas e folhas verdes. Entrou e voltou com ela cheia da melhor água que poderia existir. Trouxe também uma pequena pazinha e com ela, subitamente, furou meu peito, sem me dizer nenhuma palavra. Só com um sorriso no rosto. Abriu bem para os dois lados e com a outra mão depositou algumas sementes. Em seguida fechou bem e bateu com as costas da pazinha em cima para ficar bem fechado. Eu assistia a tudo atônito, mas não sentia dor. Pelo contrário. Foi a melhor coisa que havia me acontecido nos últimos tempos.
-É melhor ir logo, pois já estão olhando para cá e mulher direita não fica conversando com estranhos. Se quiser mais água, peça no armazém logo ali na frente.
Agradeci com água nos olhos. Poucas mas verdadeiras. Senti algo por ela que não saberia descrever nem com mil palavras. Sei que já havia sentido algo assim antes, mas só sei. Sinto que nunca havia sentido nada assim em toda minha vida. E de lá saí com uma vontade enorme de olhar para trás, mas não queria tirar aquele lindo sorriso do seu rosto.
Cheguei no morro da caixa d’água e desci pelas ladeiras do cemitério. Passei pelo curral do Coronel Alvilar, entrei pela janela de trás, que ainda estava entreaberta, e me deitei.
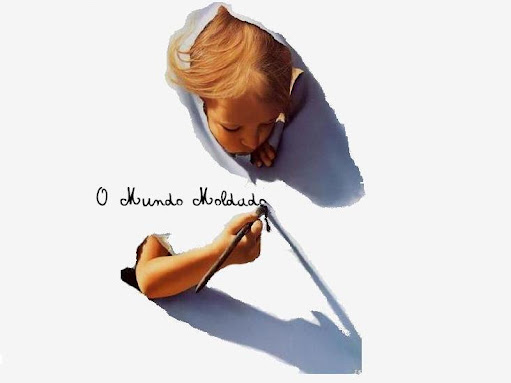

Caramba Rapha! Adorei!!!!! Um texto pra ser lido nas linhas e entrelinhas!
ResponderExcluirBeijos